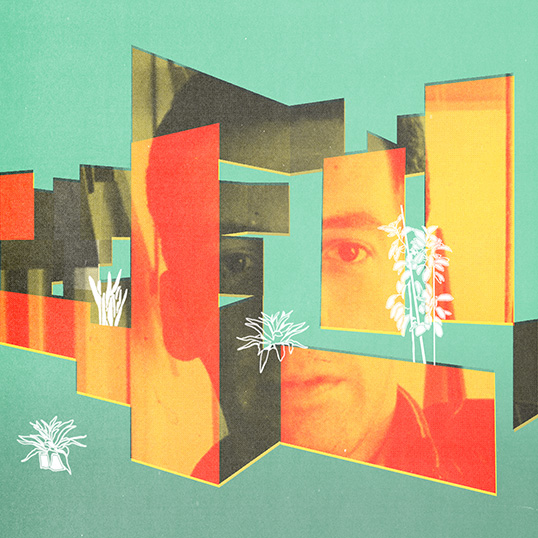Por causa do preço do aluguel, Hélio elegera o East Village. Este era o primo pobre do West Village (The Village, como era conhecido na época) e estava sendo descoberto e tomado de assalto pelos jovens alternativos que aos borbotões desaguavam na cidade. Elegera um prédio baixo, fino e macambúzio, sem zelador, com um único apartamento por andar. A parte social do loft (não havia paredes de separação) estava arrumada como “ninhos” e a parte dos fundos, a por assim dizer cozinha, era escritório com mesa de arquiteto e pesados arquivos metálicos.
Os ninhos eram semelhantes a beliches de navio, com acortinados de filó. Lá dentro, a sensação era a de aconchego materno, como, aliás, na maioria dos labirintos idealizados por Hélio na época, logo transformados em maquetes. Via-se o entorno como que esfumaçado.
Nunca vi o Hélio transpor as portas do Fillmore East. O espetáculo estava em casa. Hélio era um wired man. Tudo funcionava ao mesmo tempo. Sentado à moda ioga ou deitado, passava os dias nos ninhos. Televisão, câmara fotográfica, projetor de slides, rádio-gravador, fitas cassete, telefone. Eterno tilintar. Um contínuo desfilar de pessoas.
Havia algo no espaço criado no loft da Segunda Avenida que questionava a idéia clássica de ateliê do artista. Favorecia um tipo de ambiente ideal para o trabalho artístico coletivo, em que a celebridade Haroldo de Campos não excluía o irmão mais novo de Waly Salomão, então ganhando dinheiro como engraxate na rua 42. Irmanados pelo chão comum deviam se interagir.
Como a Fábrica, que Andy Warhol montara nos anos 1960, o apartamento acrescentava ao ateliê clássico um salão de encontros, os ninhos, onde as mais ousadas experiências com palavras & outras armas letais eram feitas. O ambiente era humano, demasiadamente humano. Pessoas ao vivo e em cores. Tratava-se de um legítimo laboratório artístico contemporâneo nosso, já que o humano e a cultura estavam à prova graças aos princípios duma estética da aventura camarada e do risco.
O melhor desenredo do laboratório – para retomar o conto de Guimarães Rosa − está nos tapes e cartas enviados por Hélio aos amigos no estrangeiro. Certa feita, ele escreveu: “Sempre gostei do que é proibido, da vida de malandragem, que representa a aventura, das pessoas que vivem de forma intensa e imediata, porque correm riscos. São tão inteligentes essas pessoas. Grande parte da minha vida passei visitando meus amigos na prisão”.
O West Village vira nascer e crescer as grandes gerações artísticas da primeira metade do século e tinha um jornal tão prestigioso quanto o New York Times − o Village Voice. Enquanto isso, ao lado, o East Village ia acolhendo os imigrantes desclassificados da Europa central, em particular os judeus, e bem ao norte, ao lado do campus da Universidade de Columbia, o Harlem tinha virado o lar dos negros. Por baixo dos luxuosos prédios da parte central de Manhattan, as duas extremidades leste da ilha se comunicavam pelo metrô da Avenida Lexington, os de número 5 e 6.
O East Village e o Harlem tinham pouco a ver com a milionária Manhattan e mais a ver com o Brooklyn e o Bronx. Um colega meu de universidade dizia que havia dois tipos de família judia. A que imigrava com o violino e a que imigrava sem ele. Os clãs judaicos sem violino e os restaurantes da Segunda Avenida, transplantados familiarmente da milenar Europa central, atestavam sobre o passado da região, pobre e sem futuro. Naquela época, aprendi a conhecer a história recente do East Village lendo os contos de Bernard Malamud, suas parábolas, que foram reunidas em The magic barrel (1954).
À noite, era infernal o movimento de hippies e groupies nas adjacências do Fillmore East. Por volta das dez horas, Hélio descia os três lances de escada do prédio (não havia elevador). Deixava o local para ir trabalhar num escritório de tradução de documentos comerciais, lá pela Rua 53, quase esquina da Quinta Avenida. Ao raiar do dia, regressava ao apartamento do East Village. Como Holly Golightly, o personagem inesquecível de Truman Capote interpretado por Audrey Hepburn no cinema, Hélio admirava as belas vitrinas minimalistas da Tiffany’s, onde ambos tomavam o breakfast simbólico. (Andy Warhol tinha mostrado as suas primeiras pinturas na vitrina da loja Bonwit Teller, em 1961.)
De tal modo ficou envolvido com a joalheria que, em tempos de bonança, lá comprou alguns dos valiosos apetrechos de Cosmococa.
Lembro-me de uma caixinha de pílulas em prata legítima. Ela tinha a forma de dado e rolava pelo colchão do ninho até encontrar outras mãos. Podia-se escutar: Les jeux sont faits (nome da peça de Jean-Paul Sartre), ou Um lance de dados jamais abolirá o acaso (nome do poema de Mallarmé). Hélio gostava das flores retóricas da literatura, como gostava também de citar o verso de Arthur Rimbaud, “Nous avons foi au poison” (Temos fé no veneno). Tinha ainda comprado na Tiffany’s um canudinho, também em prata. Servia para “aspirar ao grande labirinto”.
Auto-exilado em Nova York, tendo sido em 1968 saudado como gênio pelos críticos ingleses que foram ver seu trabalho na galeria Whitechapel, Hélio era pouco afeito aos jogos do establishment e da burocracia artística, por isso, ao terminar o estipêndio da bolsa Guggenheim que ganhara, a sobrevivência financeira lhe chegaria às mãos pelo árduo e disciplinado trabalho noturno de tradução. Manejava com conhecimento quatro línguas: o português, o inglês, o francês e o espanhol. Permutava essas línguas na tradução de cartas comerciais e de documentos legais.
Ao examinar o imenso e notável material escrito e colecionado por Hélio na Segunda Avenida, há que perguntar: Por que uma pessoa de passo cadenciado e de comportamento retilíneo detestava a linearidade da escrita fonética? De onde lhe vinha esse horror à norma da língua nacional, tal como nos é transmitida pelo dicionário e a gramática?
O neto Hélio teria algo a ver com a duplicidade profissional do conhecido professor do tradicional Colégio Pedro II, José Oiticica (1882-1957), filólogo de renome mundial e também louvado pela sua aderência política ao movimento operário e anarquista? O avô Oiticica conciliara a gramática e a anarquia, a ordem formal e a liberdade indiscriminada.
Em 1972, caiu às mãos de Hélio o livro The Life of the Theatre, de Julian Beck, do Living Theatre, que durante a ditadura, juntamente com a esposa Judith Malina, tinha sido vizinho nosso nas ruelas e cárceres de Ouro Preto. Hélio não conseguiu esconder a emoção ao deparar com o nome e as palavras do avô em epígrafe de um dos capítulos: “The maximum happiness of one depends on the maximum happiness of all” (O máximo da alegria de um depende do máximo da alegria de todos).
Não há que separar o desejo pelo indivíduo de ordem formal na vida e a busca de liberdade radical na coletividade. O anarquismo é uma forma sutil e desapiedada de individualismo. O golpe militar de 1964 traçou uma linha política que separava e opunha o desejo individual e a busca coletiva. Hélio quis suturar a divisão (historicamente) passageira e artificial pelo mistério da criação artística. Pela posição específica que tinha conquistado dentro da sociedade brasileira e da arte, posição transgressora por definição, Hélio encarnava de maneira paradoxal e paroxística a unidade do desejo de ordem para o sujeito e da afirmação de liberdade para todos.
Consequência da força repressora militar, a desordem social reinante no país enrijecia o compromisso ético do artista com a ordem individual. Ele se ensimesmava em Nova York. Dentro dos tentáculos montados pela repressão, a liberdade indiscriminada - a anarquia - tornava-se exclusividade de alguns poucos eleitos. Quando o Rio de Janeiro e a Mangueira tinham se transformado em saudade, havia que aspirar um número cada vez maior de fileiras.
Em Manhattan, Hélio era gramatical no comportamento diário e anárquico na escrita artística. Queria instaurar no português nosso de todos os dias uma língua estrangeira, parenta próxima e muito mais fascinante do que a última flor do Lácio. O leitor de Hélio deveria aproximar-se da escrita dele como de uma explosão, sem medo de sair chamuscado. Somos, seus leitores, voyeurs de sucessivos e incômodos núcleos de pura dinamite, que retiram a frase da leitura cadenciada e monótona que denuncia a origem latina da nossa escrita. Sujeito, verbo, predicado.
Na folha do caderno de anotações, as palavras não seguiam umas às outras, não se deixavam acompanhar gramaticalmente umas pelas outras. Elas se interpenetravam como corpos amantes e amorosos num amasso, semelhantes a cavalos selvagens que trepam um no outro no campo branco da folha de papel. Semelhantes a metades de corpo humano contra metades de corpo humano, que se atraem e se odeiam com as firulas da esgrima, com o abocanhar de piranha ou com a mortalidade do tiro de revólver. Ou os esguichos de tinta.
O tempo dos assassinos, no dizer de Henry Miller ao escrever sobre o poeta Arthur Rimbaud, invadia o espaço do cotidiano. A capa da antologia de poemas do jovem poeta francês, na edição bilíngüe da New Directions, era referência obrigatória para o olhar que vasculhava os colchões dos ninhos. Também as capas da biografia de Marilyn, por Norman Mailer, e do livro Notations, do músico John Cage. Capas também de long playing, como a da bolacha negra de Jimi Hendrix, de cujo narigão saia um pulmão desenhado em pó branco. Plataformas portáteis e sólidas no colchão, as capas se tornaram propícias a receber as fileiras de pó, depois dos necessários golpes de gilete ou de navalha nas pedrinhas brancas dispostas na superfície lisa da ágata multicolorida.
Não há receituário de leitura dos escritos em preto e em branco que Hélio Oiticica redigiu e colecionou no apartamento da Segunda Avenida, e nos legou.
Hélio tem dificuldade em dar o fim convencional e dicionarizado a uma palavra, como também em dar o início dicionarizado da seguinte. Mancoquilagem, por exemplo. Manco Capac, imperador inca perseguido por Pizarro e assassinado pelos irmãos, se associa ao final de maquilagem. Maileryn, o escritor Norman Mailer se associa a Marilyn Monroe numa mancoquilagem.
As palavras incompletas trepam umas nas outras, assim como pelo enjambement um verso trepa no seguinte. Segundo a retórica, o enjambement cria um efeito de coesão entre dois versos, pois o verso onde começa o enjambement não pode ser lido com a habitual pausa descendente no final, e sim com a entonação ascendente que indica a continuação da frase. O enjambement deixa o leitor sem fôlego, pronto para uma nova e profunda inspiração.
Poetas têm dificuldade em dar fim a cada verso. O ideal (inconfessado) de cada um deles é o de ser prosador, um prosador que tivesse de lidar, não com a unidade-verso, mas com estrofes. Hélio não chega a ser prosador. Como poeta, faz as palavras treparem pelas suas metades. Pelas extremidades opostas no leste da ilha, o Harlem trepa no East Village.
O enjambement é o compromisso dos núcleos explosivos da escrita fonética com o andar cadenciado e o comportamento linear. É a forma da cópula entre sílabas, da orgia delirante dos corpos partidos em movimento pela ilha subterrânea.
Não são apenas o andar e o comportamento que são lineares, assim também é o olhar que Hélio Oiticica lança às coisas e às pessoas. Sempre direto e incisivo, sem margem de erro ou de derrapagem na curva. Também é linear o modo de classificar, empilhar, colecionar e guardar as folhas de papel no arquivo da vida artística.
Nos Estados Unidos hegemônico, onde primava a alta qualidade do papel de todo e qualquer caderno, de todo e qualquer bloco (até mesmo os corriqueiros pads amarelos são o máximo), o desejo de linearidade de Hélio Oiticica encontrou uma muleta responsável. Os cadernos e blocos tipicamente norte-americanos que ele escolhia com tanto afeto deveriam causar ciúmes no aluno da antiga escola primária brasileira, acostumado a papel amarelo e de qualidade mata-borrão, com o Hino à Bandeira nacional impresso na quarta capa.
Adentrar-se pelo universo linear de Hélio é acostumar-se, por um lado, à noção de ordenação dada de presente ao usuário pelo caderno, cujo design é geométrico e honest (costumam traduzir este adjetivo por honesto, mas ele deve ser traduzido por sincero). A numeração fornecida pelo caderno existe a priori e é dada pelo processo de encadernação do próprio objeto. Ordenar artificialmente um caderno, isto é, com números ao alto da página, era um dos jogos de que Hélio gostava de se valer. O artificial transgride o natural, pode ir em números explícitos do começo para o fim, ou de trás pra frente. Depende. Por outro lado, Hélio sabe que outras situações (existenciais, artísticas, etc.) requerem não o caderno, mas o bloco de papel (yellow pad, em inglês). Neste as folhas apenas pespontadas podem ser destacadas pelo artista e um novo conjunto de folhas soltas, grampeado ou não, pode ganhar uma numeração modesta (em termos numéricos) e específica.
Poemas não são escritos em caderno, mas necessariamente em folhas de bloco, assim como as anotações esparsas ganhavam o suporte de ficha, de onde muitas vezes está ausente a numeração.
Cadernos tinham de ser o forte do responsável pelos Metaesquemas, porque tanto as folhas soltas do bloco quanto as fichas ficavam a reclamar uma forma de ser que desrespeitava a ordenação formal apriorística.
Hélio me confidenciou que em sua vida de aluno de Ivan Serpa, na escolinha de arte, só tinha aprendido uma coisa. Como cortar em linha reta o meio duma folha de papel sem deixar o corte visível ao olhar alheio. Não há mácula no branco. Tanto o papel que parecia não ter corte ao meio, quanto o corte que parecia não ter sido feito eram o modo como a linha reta se escondia ao leigo no espaço branco da folha de papel. E também a maneira como a folha escondia...
Uma folha branca de papel canson, cortada, sobre outra folha branca do mesmo papel, intacta, fazia as vezes de envelope. Era envelope. O espaço entre as duas folhas escondia dos olhares intrusos e investigativos o conteúdo, a carta por assim dizer. Escondia toda e qualquer poeira branca que delatava. Entre uma folha e a outra, naquele espaço aparentemente virgem de qualquer intervenção humana esparramava-se o pó, subtraindo-se à curiosidade. Branco sobre branco, hommage à Malevich – foi o que escreveu no poema “Manco Cápac”, depois de lhe ter colado um papelote desfeito, ainda com as marcas impecáveis das dobras.
Estava no apartamento de Hélio quando a campainha da porta de entrada do prédio soou. Ele chegou à janela para saber quem a tocara. Dois caras bem vestidos mostraram-lhe a carteira aberta com o distintivo do FBI. Queriam subir. Galgaram os três lances. Porta aberta e nenhum medo. Uma amiga de Hélio, ex-modelo de Pierre Cardin, tinha sido detida com muamba no aeroporto Kennedy. Tinha consigo apenas o endereço dele. Queriam informações. Vasculharam tudo e nada encontraram. A polícia alfandegária ainda não tinha posto em ação o lépido cão varejador. Dias depois descobri que Hélio não tinha abandonado a amiga ao deus-dará da polícia federal.
Foi esse homem e artista que aprendi a conhecer na ilha de Manhattan, a partir do inverno de 1969/1970. Nosso primeiro encontro foi no loft do Rubens Gerchman, que à época estava casado com a artista Ana Maria Maiolino. Sei que de repente estava no apartamento deles em companhia do Roberto Schwarz, que tinha defendido Ao vencedor as batatas como tese de doutorado na Sorbonne e estava hospedado na casa duma tia. Também de repente entraram Hélio e o seu grupo.
Ele chegou vestido de capa negra e lembrava o Conde da Belamorte. Foi a única vez em que o vi, em Manhattan, ríspido, elétrico e impaciente. Saímos todos daí a pouco para ver uma exposição de vídeo-arte. Lembro-me de imagens sucessivas de muita água tomadas por uma câmara estática. Bem ao estilo dos filmes que Andy Warhol tinha filmado com a sua câmara Bolex de 16 mm.
Não conversei com Hélio naquela noite. Nem na próxima vez que nos vimos. Num terceiro encontro me passou telefone e endereço. Apareça no meu loft. Não chegamos a conversar, mas percebia que escutara minhas palavras e tinha me descoberto. Ele só se dava com quem descobria. Com ele não adiantava o charme brasileiro de querer insinuar-se a qualquer preço.
Na minha primeira visita falamos muito de psicanálise e de Nietzsche (assuntos que me interessavam na época). Hélio tinha desconfiança da primeira e, aos doze anos, tinha lido o filósofo alemão. Disse-me que iria relê-lo. Acrescentei que estava preocupado com problemas de linguagem e com novas alternativas de pensamento político. Hélio foi sensível a essas e outras conversas. Funcionaram demais para mim e parece que funcionaram também para ele.
Hélio estava se desligando mais e mais do “universo da pintura e das velhas amizades com artistas plásticos” e adentrando-se pela linguagem fotográfica e verbal. Em textos que enviou depois para as revistas Navilouca e Polém, vi que havia alusões às nossas conversas e até mesmo a meu trabalho e pessoa. Volto a reencontrá-las agora na edição argentina do livro Cosmococa.
Trocávamos sempre material de leitura e de reflexão. Disse atrás que Hélio tinha birra da psicanálise. Um dia descobri por casualidade um livro raro de Freud, reeditado em inglês: Über Coca. Dei-lhe de presente um exemplar. Foi o reencontro dele com Freud. Muitos anos depois, exatamente no dia 7 de junho de 1973, recebia dele a “copy 1” de um longo poema poliglota que levava o título do próprio livro de Freud, “Über Coca”. Em seguida ao título acrescentara estas palavras: “according to Freud/ as hommage-love/ poema freudfalado”.
Hélio tinha conhecimento vasto, preciso e precioso em várias áreas do saber, mas não era um erudito no sentido estreito da palavra. Tinha operado um corte muito pessoal no vasto panorama das idéias e lançava sempre pensamentos inesperados ou sugestões ricas e originais nos descaminhos, desvãos, tropeços e bifurcações da conversa. Passava generosamente não só idéias, como ainda exigia do outro o que ele tinha de melhor. Não se contentava com a nossa comum mediocridade, ou com o mais ou menos. Queria o mais forte. O mais autêntico. O mais puro. O mais arriscado.
Essa constante fricção intelectual gerava calor e energia tão especiais que, quando deixava seu aparamento, saía levitando. Caminhava a esmo pelos Villages, do leste ao oeste, horas e horas. Hélio era capaz de faiscar no outro o seu próprio ouro. Dar-lhe de presente o melhor da sua face oculta.
Em 1973, consegui com que a Albright-Knox Gallery (museu superfechado da cidade de Buffalo) convidasse Hélio para uma exposição de slides, acompanhada de um texto-manifesto sobre a situação da arte segundo ele. O título da exposição é indicativo das suas preocupações: “slides as documents showing forms of experimental activity not compromised with art as display” (slides como documentos mostrando formas de atividade experimental não comprometida com a arte enquanto exposição de quadros). Guardo o cartaz da exposição, assinado pelo artista.
Nota 1
Não resisto e copio estre trecho do livro Os Emigrantes (Civilização Brasileira, 2002, p. 86), de W. G. Sebald, em tradução de Lya Luft:
O Bowery e todo o Lower East Side foi até a Primeira Guerra Mundial o principal bairro de imigrantes. Mais de cem mil judeus entravam ali todo ano, indo parar nas moradias escuras e estreitas das casas de aluguel de cinco ou seis andares. Nesses apartamentos só o parlour tinha duas janelas para a rua, e por uma delas passava a escada de incêndio. Nos degraus dessa escada os judeus construíam suas cabanas no outono, e no verão, quando durante semanas o calor pairava imóvel nas ruas e não dava mais para aguentar dentro das casas, eles dormiam ali fora nas alturas arejada, centenas e milhares de pessoas, ou nos telhados e nos sidewalks, e nos pequenos gramados cercados da Delancey Street e no Seward Park. The whole of the Lower East Side was one huge dormitory.
Uma primeira versão do texto foi escrita no dia da morte de Hélio Oiticica e publicada no dia seguinte no jornal O Estado de Minas, em 23 de março de 1980, com o título “Fé no veneno”.